RESUMO Jornalista relata descoberta e tratamento do câncer de mama de sua mãe. Experiência recorda um aspecto inquestionável dessa doença cercada de variáveis: a conscientização, incentivada neste mês pela campanha do Outubro Rosa, é das poucas armas eficazes no combate à variante de câncer mais letal para mulheres.
*
Minha mãe talvez não precisasse ter morrido de câncer. Muitas vítimas poderiam evitar o pior com as três principais armas contra a doença, que não se cura: informação, pressa e pronto atendimento.
Dona Vânia era mestre na arte da conversa; tinha inteligência ágil, humor ácido, teimosia e talento para abraçar os queridos pelo estômago -no dia em que a perdemos, o repórter Graciliano Rocha lembrou com carinho dos pastéis de banana que saíam de sua frigideira, no tempo em que ele trabalhava para a Folha em Porto Alegre. Não concluiu o ensino médio. Casou jovem, separou cedo e suou para criar três filhos sozinha, em geral ganhando mal como auxiliar de contabilidade.
Dos três filhos, Wagner, o do meio, ficou em casa e foi seu sócio numa microempresa. No final, ele também foi seu motorista, cozinheiro e enfermeiro improvisado.
Em junho de 2013, quando fui visitá-la no final das férias, ela confessou discretamente que tinha um caroço no seio. Diante da resposta óbvia, ela reclamou do frio do inverno gaúcho e das filas do SUS. Pediu reserva; não queria fofoca na família. Semanas depois, reclamou que o caroço tinha crescido muito. Estava "do tamanho de um ovo de galinha", disse, ouvindo de novo a resposta óbvia. Resmungou que fazia ainda mais frio. Na verdade, admitiu muito depois, era o medo que a congelava.
| Foto Eduardo Knapp/Folhapress | ||
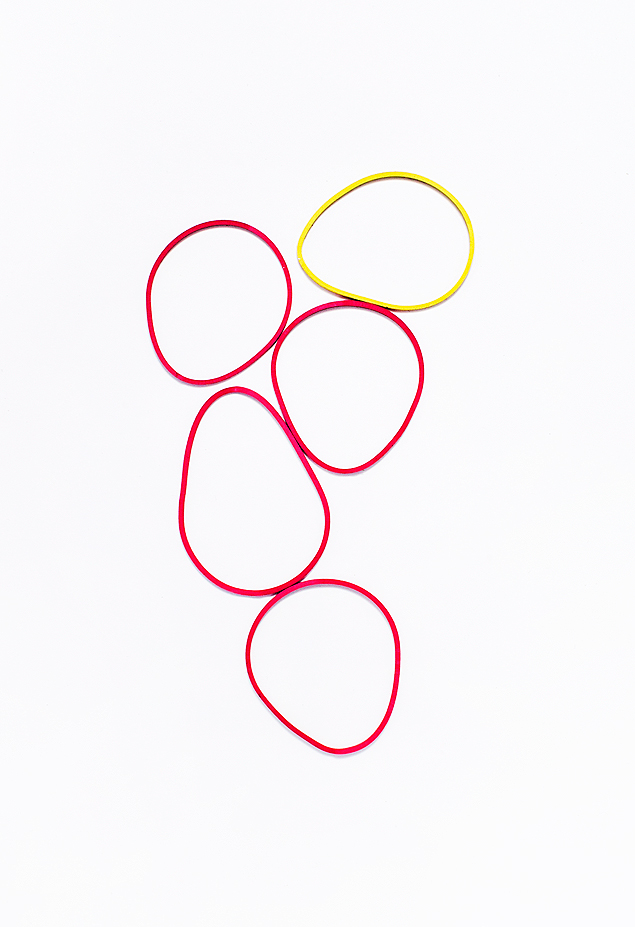 |
||
De acordo com a médica Maria Aparecida Koike Folgueira, pesquisadora da USP, há dois fatores principais para alguém desenvolver a doença: ser mulher e ter mais de 50 anos. No caso da minha mãe, havia mais dois agravantes importantes: sedentarismo e obesidade após a menopausa. Quanto mais tempo de exposição da mulher ao estrogênio, maior o risco -e a gordura corporal produz hormônios semelhantes ao estrogênio.
Seus três maços de cigarros ao dia não ajudavam, ainda que o fumo pese menos no câncer de mama que em outros, como pulmão, garganta e bexiga. Havia anos não visitava um ginecologista: era desconfiada com relação a médicos, especialmente no tocante ao câncer. Jovem, viu o irmão mais velho morrer da doença pouco após examinar um mal-estar mínimo.
Câncer é o nome de uma miríade de doenças diferentes, iniciadas da mesma maneira: ao se reproduzirem, as células do corpo podem gerar cópias defeituosas, que se multiplicam com maior ou menor rapidez. Com o tempo, elas se infiltram no organismo, se espalhando e matando células sadias.
Quanto antes ele for detectado, maior a chance de remissão. Se hoje parece haver mais câncer do que antigamente, em parte isso se deve ao fato de que, no passado, muitos morriam sem descobrir que tinham a doença. Hoje, o câncer mata mais no Brasil do que causas externas, como acidentes de trânsito e a violência urbana. Entre as mulheres, o câncer de mama é a variedade que mais mata. O Ministério da Saúde estima que em 2014 haverá, no Brasil inteiro, mais de 57 mil novos casos de câncer de mama, numa incidência de 52 casos a cada 100 mil mulheres.
Há variações regionais. Pela estimativa do Instituto Nacional do Câncer, a cada 100 mil mulheres de Porto Alegre, 126 teriam câncer de mama em 2013. Não é possível estabelecer um motivo para a taxa ser maior do que a média do resto do país: pode ser que as as mulheres de lá façam mais exames; ou pode ser porque, em regiões mais pobres a subnotificação seja grande; pode ser, ainda, que haja mais incidência da doença em lugares de pouco sol, necessário à fixação da vitamina D (que contrabalanceia os efeitos do estrogênio), mas esses estudos são inconclusivos.
Nos últimos dez anos, na capital gaúcha, morreram, por ano, 28 dessas 126 mulheres.
AGRESSIVIDADE
"Hoje, o que mais reduz a mortalidade por câncer de mama é a mamografia", diz Koike. "Reduz pouco, mas é o que há." Tumores de mama têm graus de agressividade tão distintos que a definição de "tarde demais" varia quase caso a caso. Isso impede que a mamografia tenha a eficácia que teve, no combate ao câncer de colo de útero, o papanicolau -um exame simples, mas que ajuda a identificar muito cedo e reduzir "drasticamente", nas palavras da médica, o avanço da doença.
No Brasil, a recomendação é de que mulheres façam mamografia regularmente a partir dos 50 anos, porque essa é a faixa de maior incidência. Todo ano, em outubro, o Ministério da Saúde promove um mutirão de mamografias entre mulheres nessa idade -no mundo todo, o mês é dedicado à conscientização para a doença, movimento conhecido como Outubro Rosa.
Ainda assim, nem todas nessa faixa procuram o exame. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008, quase 3 a cada 10 mulheres entre 50 e 69 anos nunca fizeram mamografia.
Minha mãe, uma das 30% relapsas, achava que era alarmismo.
Já que ela não faria o exame por iniciativa própria e eu não estava lá para levá-la pela mão até o laboratório, articulei uma conspiração para ela fazer mamografia. Minha madrinha, Tânia, conhece bem os laboratórios da cidade e descobriu onde fazer o exame a poucas quadras da casa da minha mãe. Praticamente arrastou a irmã de surpresa num final de tarde. Nunca esqueço a fúria ao telefone naquela noite. "Aquela máquina aperta!", rosnou minha mãe.
O exame nunca é agradável, mas é necessário. Nem todo "caroço" é necessariamente um câncer. Pode ser um tumor benigno, que não se espalha pelo corpo, segundo Leonardo Cardilli, patologista da USP. O tamanho também não é necessariamente documento. "Às vezes, tumores pequenos são muito mais agressivos", diz Cardilli.
No caso da minha mãe, tudo indicava que era alta a chance de ser o pior -a idade, o peso, a rapidez do crescimento do "ovo". Antes de qualquer oncologista pôr os olhos no exame, as técnicas do laboratório já diziam à minha tia que não tinha como ser outra coisa. Com o resultado em mãos, porém, era possível tentar acelerar a entrada no Sistema Único de Saúde (SUS).
TRATAMENTO
Para uma enorme parte da população, a única via acessível para tratar um câncer mais avançado é o SUS. São raros os planos de saúde que cobrem todo o tratamento de pacientes com câncer. Apenas há um ano o Senado aprovou lei que obriga os planos a pagar os medicamentos necessários. Os procedimentos mais eficazes, como a terapia-alvo dirigida, podem custar o equivalente ao preço de um SUV importado a cada aplicação. Quatro doses de quimioterapia oral custam o equivalente a dois anos de salário mínimo. Não era nossa realidade.
Pela Constituição, o Estado deve prover saúde a todos. Mas o cobertor é curto. Falta estrutura, falta equipe, sobram pacientes, multiplicam-se as complexidades. Apesar de toda a dificuldade, porém, o SUS é bastante eficiente para tratar o câncer. Há polos de excelência -como o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira, na capital paulista, e o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, o Inca, no Rio- que atendem pelo SUS. São hospitais de referência, aos quais o doente só tem acesso se for encaminhado em consulta numa Unidade Básica de Saúde (UBS).
Tratar o câncer depende de muitos remédios, com fins diversos e horários variados. "O grau de instrução do paciente tem impacto direto na aderência ao tratamento", diz Koike. No caso da minha mãe, isso não foi problema: meu irmão fazia planilhas detalhadíssimas com a estratégia dos remédios. Mas alguém menos instruído corre o risco de ficar pelo caminho.
| Foto Eduardo Knapp/Folhapress | ||
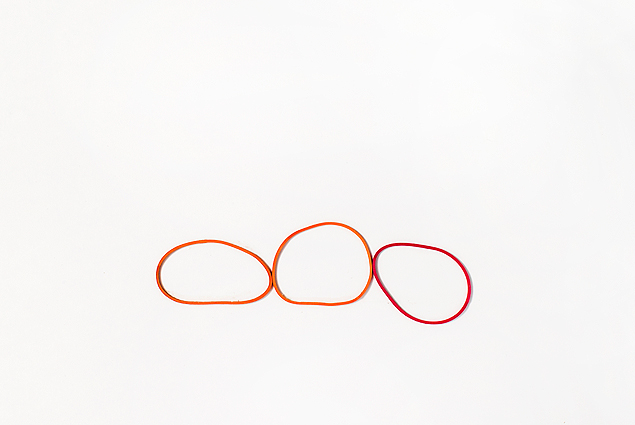 |
||
Em artigo publicado em março no "New York Times", com o título "Por que mulheres negras morrem de câncer?", o médico Harold Freeman, ex-presidente da Associação Americana do Câncer, contou sua experiência atendendo desde 1967 no Harlem, em Nova York. Segundo ele, a detecção precoce e a constância do tratamento se ligam profundamente a fatores sociais, entre os quais a dificuldade, advinda da baixa escolaridade, de abrir caminho no sistema de saúde.
Para minimizar o problema, Freeman criou um serviço de assistência social que orienta cada mulher sobre seu tratamento, ajuda a marcar consultas, explica como usar a medicação e procura tranquilizar seus medos. Com isso, a taxa de mulheres com câncer de mama no Harlem que sobreviviam ao menos cinco anos aumentou de 39% em 1990 para 70% em 2000.
O SUS, embora gratuito, talvez seja mais complexo do que o sistema norte-americano de saúde. O público, porém, não difere tanto. Sem orientação, fica-se na dependência de o paciente saber fazer as perguntas certas, afirma Koike.
RECURSOS
Minha mãe começou a se tratar no hospital Conceição, um dos mais demandados de Porto Alegre, frequente tema de reportagens sobre a falta de recursos na saúde gaúcha. Ao final de setembro, ela só tinha conseguido uma consulta, com uma médica que ironizou seu hábito de fumar.
Àquela altura, o tumor já tinha 15 centímetros de diâmetro. Era visível sob a roupa, e ela começou a utilizar um xale para disfarçar. O "caroço", o "calombo", a "bola", o "ovo de pato" não doía, mas incomodava por puxar a pele sob a axila. Estava necrosado. Então ela passou a ensinar o Wagner a cozinhar, porque não conseguia mais. Doeu quando caiu a ficha de que os melhores bifes à milanesa do mundo haviam acabado.
Ainda em setembro, a irmã que a levara ao exame, formada em enfermagem, lembrou que o hospital Fêmina tinha mastologistas na emergência, por ser especializado na saúde da mulher. O Fêmina e o Conceição fazem parte do mesmo grupo, administrado pelo governo federal. Enquanto a emergência do Conceição transborda, a do Fêmina é mais tranquila. E tínhamos boas lembranças. Foi lá que eu nasci, vários anos antes de o hospital ser estatizado. Minha avó, de 95 anos, ainda guarda uma taça de cristal com logotipo -na segunda metade dos anos 1970, o hospital servia espumante aos familiares para brindar um nascimento.
Prontamente, minha mãe começou a ser atendida. Com oito sessões de quimioterapia, poderia extrair o tumor. A químio enfraquece o paciente para enfraquecer a doença, porque o objetivo é matar células defeituosas. Qualquer gripe é um risco. Entre idas e vindas, conheceu outras pacientes. Ficou amiga de várias. Aos poucos, algumas não apareciam mais.
No ponto em que o câncer de minha mãe estava ao ser detectado, estágio 3, o tumor estava prestes a invadir a corrente sanguínea, o que poderia trazer a metástase -primeiro nos pulmões e fígado, e depois no cérebro e ossos. No cérebro, o risco é de perder funções do corpo. Nos ossos, a dor é horrível.
Pouco antes do início da quimioterapia, a doença chegara ao fígado e ao pulmão. Enquanto demorou o atendimento, o câncer ganhara a corrente sanguínea. Fiquei sabendo quase por acaso, ao telefone. Foi a primeira vez em que eu a ouvi chorar em 36 anos. Nem na hora do desespero ela deixava de lado o bruto humor viking: "Eu tava apostando no infarto fulminante, não nisso". Segurando a voz, respondi outra besteira de volta: "Até quem joga na Mega-Sena pode levar a acumulada".
Com as metástases, tudo mudava. O estágio agora era o 4. Nesse ponto, pode não haver volta. Se o tratamento fosse bem-sucedido, porém, a quimioterapia eliminaria as metástases. Alguns pacientes ganham até 15 anos de vida.
XADREZ
Com um tumor avançado, tratar o câncer é como o jogo de xadrez com a morte mostrado no filme "O Sétimo Selo", de Ingmar Bergman. Os médicos movem uma peça sabendo que o adversário moverá outra. O sucesso é definido por quanto se adia a derrota.
Ainda que não seja religioso -quase ninguém na família é-, busquei conforto nas ideias de um presbiteriano, o reverendo Thomas Bayes (1701-61), criador de um teorema para determinar qual a chance de algo acontecer, ou não, dado que algo relacionado àquele fato já aconteceu. Isso está por trás de algoritmos como o que o Google usa para apresentar opções de palavras para continuar uma busca. A quem digita no buscador a palavra "câncer", a primeira opção que ele apresenta é "de mama", devido à frequência de buscas.
Pelo teorema de Bayes, aperfeiçoado nas últimas duas décadas, a cada probabilidade de algo acontecer corresponde outra, complementar, de que aquilo não ocorra. Ou seja: se 52 a cada 100 mil brasileiras têm câncer de mama, outras 99.948 não terão. Se, dessas 52, X chegarão ao estágio da metástase, Y se livrarão do câncer sem passar por ela. Se das X morrem Z, agarrei-me à chance de minha mãe chegar às W que sobreviveriam um pouco mais do que o mínimo.
Em dezembro, enquanto eu subia a escada para a visita de Natal, minha mãe descia os degraus com meu irmão caçula, o Felipe, para ir ao hospital, num dos vários sustos que teve. Seu pé havia inchado por um problema circulatório. Voltou a tempo de assarmos um galeto no dia 24. Lembro do seu sorriso ao cheirar o liquidificador com o tempero que preparei para o frango.
Estávamos otimistas. A químio ia bem, o tumor se reduzira muito, estava quase pronto para ser operado, no começo do ano. As duas metástases conhecidas já não eram mais problema. Cabelo ela já não tinha, exceto na nuca. Mas ela não tinha vaidade nem com o cabelo e nem com o seio: "Pode cortar tudo, se for pra me salvar".
VIRADA
Numa tarde de sábado, o patologista Leonardo Cardilli terminava de apresentar conceitos básicos sobre o que é o câncer e por que ele não tem cura a um anfiteatro lotado na Faculdade de Medicina, durante a Virada Científica da USP, quando recebeu a Folha.
Segundo ele, o tratamento do câncer de mama é um dos mais clássicos da oncologia -e um dos que mais evoluem. Até recentemente, era usual ter de extrair todo o seio da paciente. Nos anos 1980, porém, descobriu-se que a chance de sobrevida não mudava tanto se fosse extraída só a área afetada.
Assim foi tratada minha mãe. Aos poucos, após operada, ela passou a retomar suas atividades. O cabelo voltou a crescer, grisalho escuro como cinza de cigarro.
O xadrez com a morte, porém, ainda teria mais alguns lances.
No Carnaval ela telefonou, com a voz embargada, mas se esforçando para mostrar a tranquilidade. Não era nada, disse. Tinha ficado com o braço e a perna "bobos", tinha caído no banheiro e não conseguia andar ou segurar utensílios. "Ficou uma bagunça, o coitado do Wagner vai ter que arrumar, mas foi coisinha mixuruca", disse.
Procurar os médicos, porém, nem pensar. Uma mulher que tinha a orientação de ir para o hospital a qualquer febre resistia a fazê-lo ao ficar com metade do corpo paralisado. Era o medo de novo.
Wagner precisou aprender a ajudá-la com as mais básicas necessidades, e o hospital era o melhor lugar para ela estar. Depois de vários telefonemas e muita insistência familiar, ela foi internada.
Ao final do feriado, piorou muito. Passou a ter problemas de fala e deixou de reconhecer as pessoas. Era efeito de uma troca de remédios, mas nem as enfermeiras sabiam. Com corticoides, a lucidez voltou. Sua primeira lembrança da internação era de me ver chegar minutos antes de passar por numa ressonância magnética do cérebro.
No dia seguinte, a médica titular nos reuniu para explicar a situação. Eram cinco metástases no cérebro, o que tornava o caso inoperável. Fosse uma só, seria possível drenar com chance de sobrevida. Cinco? Impossível. A chance de afetar seu cérebro permanentemente era muito maior. Restava garantir a melhor qualidade de vida possível no tempo que houvesse.
Três pares de ouvidos escutavam atentos a coisas diferentes. Eu queria saber das chances. Wagner, dos cuidados necessários. Felipe cobrava respostas sobre o que o SUS estava deixando de fazer.
Qualquer prognóstico era arriscado diante da agressividade do câncer dela. Quatro meses de vida eram quase garantidos. Nesse período, teria convulsões ocasionais, que ficariam mais frequentes, até que não houvesse mais volta.
Para cuidar, seriam necessárias paciência, atenção e fraldas geriátricas. Um coquetel de medicamentos atenuaria os efeitos, e a radioterapia reduziria as metástases para adiar o pior e nos dar tempo para assimilar a ideia da perda.
Infelizmente, os melhores cuidados do SUS não reverteriam a situação. Mas ainda que o terceiro filho quisesse interná-la num hospital particular, gastaria um dinheiro que ninguém da família teria, sem melhorar a situação.
PESO
Eu e o Wagner fomos para casa com esse peso imenso nas costas. Conversamos até três da manhã e alinhavamos um plano. Não poderíamos demonstrar fraqueza. A parte mais pesada ficaria com ele, e por isso eu passaria um fim de semana por mês com a mãe.
No domingo, fomos almoçar com nossa avó. Preparei um arroz de carreteiro, receita que aprendi com minha mãe, sem usar nada que a dieta proibisse. Levei um pote para dar de colher a ela, que maldizia a comida do hospital. No meio da tarde, já ríamos juntos. Ela perguntou o que houvera. Expliquei que era na cabeça e que seria difícil operar. Ela não se abalou.
Quando a mobilidade começou a voltar, teve alta. Mas seu comportamento estava alterado. Não tinha sono. Ia à janela e fumava cigarros em fila. Quando um médico lhe disse que deixar de fumar nada mudaria, passou a dizer: "Sou a única pessoa no mundo que tem receita médica permitindo fumar".
Exigia três telefonemas diários. Se contrariada, tinha princípios de convulsão, que podiam pressionar os tumores. Sua conversa fazia menos sentido a cada dia. Num fim de semana, perdeu o freio, como se estivesse caduca. Tentou agredir uma irmã e xingou os filhos e a afilhada. No hospital, nos disseram que era o fim. Na verdade, era efeito de uma mudança na medicação.
Uma cunhada, tia Dione, passou a visitá-la com frequência durante a doença. Religiosa, costumava visitar parentes enfermos de colegas da igreja. Uns oravam pelos doentes queridos dos outros e depois todos tomavam chá juntos. Mesmo não sendo religiosos, entendíamos que oração, para quem tem fé, é uma forma de carinho.
Numa das sessões de radioterapia, minha mãe reencontrou uma cunhada, tia Sirlei. Minha tia tratava um tumor na garganta. Falava pouco e mal conseguia comer. Minha mãe se mostrou mais preocupada com o tumor dela do que com o seu próprio. "Eu como o que quiser e posso até fumar", se vangloriava. Lógico que sua situação era mais complicada. Tia Sirlei, aliás, teve sucesso no tratamento.
Quanto mais novidades o paciente tem para pensar, menos vezes pensa na crueldade do que tem. Quando o tecladista Jon Lord, que fundou o grupo de rock Deep Purple, teve câncer de pâncreas, o maestro Paul Mann insistiu que ele gravasse em estúdio o "Concerto para Grupo em Orquestra", que compôs em 1969 com o grupo.
"A atmosfera de amor e energia positiva de todos ao redor de Jon lhe trouxe os melhores momentos do seu ano final, que o ajudaram a enfrentar o mais intratável de todos os cânceres", me disse Mann.
Em abril, levamos a mãe ao espetáculo do comediante Guri de Uruguaiana, que usa trajes gaúchos e apresenta versões de sucessos internacionais com a letra do "Canto Alegretense", uma canção regionalista. Riu muito. Em maio, ela já podia caminhar no quarteirão ou ir ao supermercado. Em junho, caminhava melhor. Conversávamos muito nas visitas.
XEQUE
Mas o duro de jogar xadrez com a morte é que todos sabemos quem ganha no final.
Em julho, veio o xeque. As convulsões aumentaram muito e ela voltou a perder os movimentos, dos dois lados. Internada por duas semanas, desanimou.
Por indicação de Claudia Collucci, colunista da Folha, conversei com a médica Maria Goretti Maciel, presidente da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, para saber o que esperar. Segundo ela, era impossível prever o que pode acontecer. Contou de uma paciente desenganada, cujo marido sonhou que passaria o Natal em casa. Os médicos tentaram amainar seu entusiasmo. Ela, porém, melhorou e passou o Natal em casa, morrendo pouco depois.
Cabia a mim, que estava mais distante, confortar a família mais próxima, imersa no estresse direto. Mas de onde eu tiraria forças?
Lembrei de uma amiga norueguesa que tatuou no pulso o "mjölnir", o martelo de Thor, deus do trovão da mitologia nórdica. Olhar para a tatuagem a acalmava. Sorri com a lembrança e guardei na carteira o martelo de um boneco do Thor da Marvel. Mal não faria. Nem na infância girei tanto um brinquedo entre os dedos.
Numa madrugada, uma colega agonizou, deixando todas as pacientes assustadas. Minha mãe gritou por uma enfermeira -que, quando enfim chegou, encontrou a paciente morta, as mãos levantadas, e minha mãe em choque.
Depois disso, piorou e foi removida para um quarto isolado. A hipótese era de que o estresse daquela noite afetara os tumores, agravando sua situação. Seu corpo mal reagia. No quarto isolado, ela seria sedada e precisaria ter um parente ao lado 24 horas por dia. O prognóstico era duro: teria no máximo 60 horas de vida.
Fui a Porto Alegre ajudar no revezamento. Coube-me a tarefa de explicar à minha avó que desta vez tínhamos perdido. Era um soco na barriga. Ponderei: ela enterrara dois maridos e três filhos, um ao nascer; tinha vencido a tuberculose quando a doença era o ebola da vez. Saberia enfrentar essa hora.
Subi com a vó até o quarto. Na porta, ela me pediu um lenço de papel. Olhou para o alto, respirou fundo, limpou os olhos e, de repente, parecia serena. Só voltou a desabar depois de dar as costas ao leito. Tínhamos a impressão de que, mesmo sedada, minha mãe sabia o que ocorria. Acordava às vezes, resistindo aos sedativos. A última frase que me disse foi: "Ai, Marcelo", ao notar a mãe ao seu lado, num momento de consciência. Não queria ser vista sofrendo.
Passei uma madrugada em vigília. Levei livros, que não li. No escuro, abri a garrafinha de vinho que levara no bolso para me dar coragem e observei a cidade pela janela. Várias de minhas melhores lembranças estavam ao redor. No elevador, casais carregavam recém-nascidos como minha mãe me carregara ali mesmo. Como ela podia estar morrendo com tanta coisa boa em volta? O dia raiou, e ela estava viva, ainda que ausente.
Ela ficou dez dias sedada, quatro vezes as 60 horas previstas. O jogo acabou às 5h30 da manhã de um sábado. Quando meu irmão telefonou, senti um misto de tristeza profunda e alívio. O sofrimento dos dias anteriores foi tanto que ainda não sei qual sentimento era mais forte. A perda era um buraco negro no peito, mas minha melhor amiga, que me ensinou o que é gratidão, precisava descansar.
Rolando o martelo do Thor, pus os fones para ouvir "To Notice such Things", composição de Jon Lord em homenagem a um amigo morto. Lord morreu de câncer em 2012. Sua família promove shows anuais em prol da pesquisa para o tratamento do câncer de pâncreas. O deste ano saiu em DVD.
Enquanto Lord tocava seu piano e Jeremy Irons lia o poema "Afterwards", de Thomas Hardy, veio a clareza de que ninguém está imune à doença. Nem nossos parentes, nem nossos músicos favoritos. Nem nós, enfim.
MARCELO SOARES, 37, é jornalista da Folha.
ESTELA SOKOL, 34, é artista plástica.
